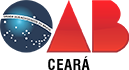Editorial por Natália Rocha
Editorial por Natália Rocha
Pela primeira vez, uma Conferência do Clima das Nações Unidas (a COP30) é realizada em território amazônico, ao mesmo tempo em que o Brasil segue ampliando fronteiras de exploração em seus biomas. O país que sediará, em 2025, um dos maiores encontros globais sobre o futuro do planeta é também aquele que figura entre os líderes do desmatamento e da desigualdade. A despeito da redução de 36% na perda de florestas, o Brasil segue como um dos países que mais desmata seus biomas no planeta, segundo dados da Global Forest Watch detalhados pelo Observatório do Clima.
É essa contradição que torna o debate sobre a crise climática no Brasil tão urgente e tão simbólico.
No Ceará, o avanço da desertificação – que já atinge 11,5% do território do estado, segundo dados da Funceme – é visível nas fissuras do solo e nas dinâmicas sociais. A escassez hídrica não é mais uma previsão, é uma realidade que atinge todas as populações que vivem em regiões de seca. A cidade de Irauçuba, a 154 km de Fortaleza, por exemplo, tem uma das maiores áreas degradadas em processo de desertificação do Brasil, e uma das causas é o baixo índice de chuvas na região.
Por outro lado, segundo a “Carta de Fortaleza” da Terceira Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID III), “Do ângulo das potencialidades destas zonas secas, por sua vez, abrigam a maior parte da agricultura familiar no planeta, respondendo por 40% da produção global de alimentos, quer oriundos da pecuária, quer da agricultura, oferecendo, assim, uma contribuição de relevo para o desenvolvimento sustentável”.
Ainda assim, as populações que vivem nestas regiões secas têm pouca representação ou voz em tomadas de decisões que têm impacto em seus territórios, apesar de serem as mais afetadas e vulneráveis aos efeitos da crise do clima. Além disso, a emergência climática não é apenas um problema ambiental; é também racial, de gênero e de classe. Os dados comprovam o que os corpos já sabem: os mais pobres, pretos, indígenas e periféricos são os primeiros a sentir o peso das enchentes, das secas e da fome.
“Quando a gente fala de racismo ambiental e climático, a gente tá falando desse impacto desproporcional por conta das vulnerabilidades pré-existentes, mas também por conta da escolha da zona de sacrifício, que está totalmente vinculada a raça e etnia daquela população que vai ser submetida a algum impacto”, explica a secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista, Thaynah Gutierrez, em entrevista ao podcast Tempo Quente: esquenta pra COP30.
Beatriz Azevedo, presidente da Comissão de Direito Ambiental (CDA) da OAB Ceará, lembra que a política climática é transversal e que, portanto, existem ações que atuam em diversas áreas. “Por exemplo, a gente tem agora a lei da universalização, que leva saneamento básico para comunidades periféricas urbanas, e isso é uma conquista de direitos humanos, que seria histórica se a gente conseguisse atingir as metas da lei. Então, levar saneamento já é uma forma de promover a adaptação à crise climática e a resiliência dessas comunidades”, afirma.
Ao longo desta série especial, acompanhamos de perto como essa visão se materializa em diferentes frentes: nas retomadas indígenas, nos movimentos urbanos de justiça climática e nas pequenas experiências comunitárias que reinventam modos de viver e produzir. Mas também trazemos dados de crimes ambientais, nos debruçamos sobre os conceitos de Direito da Natureza e apuramos como está se dando a implementação de energias renováveis no estado.
O Ceará, nesse sentido, é um microcosmo do planeta, explicitando as contradições que a COP30 tentará enfrentar em escala global.
Como instituição, a OAB Ceará tem buscado inserir o Direito Ambiental na agenda pública com mais vigor. Beatriz Azevedo lembra que o país já dispõe de um arcabouço jurídico robusto – da Constituição Federal de 1988 à Política Nacional sobre Mudança do Clima -, mas carece de efetividade. “A gente tem uma legislação ambiental que é modelo para o mundo e precisamos melhorar sua aplicação”, e completa: “Apesar das nossas contradições, e o Brasil tem muitas, eu diria que o país tem boas ferramentas; cabe a nós, enquanto sociedade, também promover o uso delas”
Essa distância entre o discurso e a ação, entre o compromisso internacional e a realidade local, é o grande dilema do nosso tempo. A COP30, ao se realizar em Belém, traz uma chance histórica: deslocar o eixo do debate climático para o Sul global, para as margens, para os territórios onde o colapso é vivido cotidianamente.
Mas esse deslocamento só fará sentido se for acompanhado de escuta. De reconhecimento de saberes e modos de vida que, embora invisibilizados, sustentam o equilíbrio ecológico há séculos. O que está em jogo não é apenas a redução de emissões, mas a reconstrução de vínculos. A compreensão de que a crise climática não se resolve com mais tecnologia, mas com outra ética: uma ética do limite, da interdependência e da reparação.
Ao reunir histórias de luta, dados científicos e vozes diversas, esta série procura contribuir com essa travessia – não como quem oferece respostas, mas como quem busca, junto aos que vivem nas linhas de frente do colapso, outros modos de existir.
O Ceará nos ensina que a sobrevivência pode ser também uma forma de poesia. E que, talvez, seja justamente daqui – do semiárido, das comunidades que se recusam a desaparecer – que a gente consiga se reencantar com o mundo e salvar a nós mesmos.